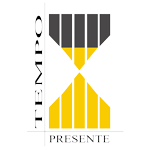Para Francisco Teixeira da Silva, vivemos um momento único da história em que a política pode conduzir, com autoridade, os militares e sua visão salvacionista e patrimonialista de volta à caserna
Por Flávia Tavares
“A República deve ser agraciada com silêncio dos militares.” Essa é a conclusão de alguém que, por ofício, ouve o que os militares dizem e pensam. Francisco Carlos Teixeira da Silva é historiador. Por mais de 15 anos, tentou ensinar a novatos e veteranos a verdadeira história do Brasil. Encontrou a resistência de uma corporação que tem sua própria versão da história, que lhes atribui a missão de
fundar a nação e protegê-la de inimigos, inclusive imaginários, internos. Tudo pelo filtro de uma elite conservadora, agrária e patrimonialista. Chico, como pede para ser chamado, foi assessor do Ministério da Defesa no segundo governo Dilma.
Chegou a fazer uma proposta de reforma do ensino militar, discutida, em partes, com Darcy Ribeiro, com quem trabalhou. No currículo, haveria leitura obrigatória de 10 livros da literatura sobre a realidade brasileira, de Érico Veríssimo a José Lins do Rego, passando por Machado de Assis e Graciliano Ramos. “Não dá para formar oficiais que sejam bons funcionários públicos e guerreiros só com matemática binária”, ele acredita. Mas Chico encontrou uma oposição arrasadora — dentro da estrutura militar, mas também entre civis.
A tutela dos militares sobre os civis é secular, não começa pós-ditadura. Também não se agrava com a Comissão Nacional da Verdade, defende Chico. Ela é retroalimentada por militares que conservam sua mentalidade salvacionista nas 23 de agosto de 2023 academias. E por civis que recorrem às Forças Armadas para resolver seus problemas eventualmente. Conduzi-los de volta à caserna é um esforço que demanda coragem e autoridade. Mas, se houve na história um momento propício, é o atual. Professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, crédito
que Chico mais se orgulha de ter por ter sido conquistado em concurso público, ele também ensinou na Escola de Guerra Naval (EGN), na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército (Eceme) e na Escola Superior de Guerra (ESG). Conversa intensamente com oficiais, principalmente os “legalistas”. Diz-se respeitado nessa interlocução, mesmo com entrevistas e artigos frequentes em que descreve a visão de mundo equivocada dos militares brasileiros. Chico defende que é hora de civilizar o debate político brasileiro, no sentido de deixá-lo exclusivamente civil. “O Brasil não conseguiu institucionalizar uma relação com os militares que seja segura para a democracia.” Confira os principais trechos da entrevista.
O general Tomás Paiva, comandante do Exército, fala, em seu comunicado, que o Exército é uma “instituição coesa”. Então, é possível analisar Exército e Forças Armadas como uma instituição, sem fulanizar?
Ao perguntar se existe uma questão militar na República, é preciso abstrair os indivíduos e pensar a instituição. Me perguntam muito quantos generais do Alto Comando do Exército são legalistas, quantos são bolsonaristas. Essa não é efetivamente a questão. O ponto central é se perguntar se a República no Brasil conseguiu institucionalizar uma relação com os militares que seja segura para a democracia. A resposta é não. Não há uma relação saudável para a democracia no Brasil com o papel que os militares se auto-atribuem, e que algumas vezes os civis atribuíram a eles, indo buscá-los na caserna para resolver seus problemas. Essa relação não é republicana. Tem duas coisas que marcam profundamente o pensamento, ou melhor, o habitus dos militares na república brasileira. Em primeiro lugar, a noção de que eles são os fundadores da nação e da República. Isso se enraíza em dois mitos históricos: o de Guararapes, quando não existia sequer Brasil,
éramos uma colônia muito pouco povoada e eles expulsaram os holandeses e “salvaram” a unidade do Brasil. E o da proclamação da República, que teria sido feita por eles para encerrar um regime tradicionalista e escravista. Eles teriam sido a modernidade, o positivismo, a ordem e o progresso, e teriam derrubado o Império e assumido a tarefa de modernizar o Brasil.
É desses mitos históricos que nasce a pretensão das Forças Armadas de ser um “poder moderador”?
No Império, existia o poder Legislativo, no Parlamento; o Judiciário, nos tribunais; e o Executivo era exercido pelo primeiro-ministro, que no Brasil se chamava ministro do Império. Havia também um quarto poder, era o poder moderador, que residia no imperador e era muito forte, porque ele podia nomear governadores, dava títulos de nobreza — uma forma de fazer política — e dissolvia e convocava o Parlamento e as eleições. Esse quarto poder não foi recepcionado em nenhuma Constituição. Os militares entendem que eles são os herdeiros do poder moderador. E que podem
intervir na política republicana para restaurar princípios morais, principalmente na questão da corrupção, e ordenar as instituições a trabalhar nesse sentido de ordem e progresso. A segunda marca profunda na mentalidade militar, também ruim para a a vida republicana, é aquela que vem depois da Segunda Guerra, das relações com o Exército americano e da Guerra Fria: a ideia da existência de um inimigo interno. Não o combate a inimigos em fronteiras, que seria a função precípua das Forças Armadas. Dada a formação conservadora, mantida pelas escolas e academias
militares, esse inimigo interno é sempre visto em qualquer movimento com características de promoção e avanço social. Já foi o anarquismo, o comunismo, o varguismo, o trabalhismo, o social-desenvolvimentismo e agora é o petismo ou o bolivarianismo. Renomeado de comunismo.
Isso. Esses dois mitos deles, como fundadores da República e da nação e como os únicos capazes de combater o inimigo interno, fazem com que eles tenham uma visão sistêmica, para além dos indivíduos, sobre as relações deles, militares, com a política. Insisto no “para além dos indivíduos”. Nesta semana, escrevi um pequeno texto sobre o tenente-coronel Mauro Cid, que foi meu aluno na Eceme, e vários oficiais — eu converso com eles o tempo todo — disseram: “professor, não podemos falar em Forças Armadas ou Exército a partir de um indivíduo”. Esses são os que não estão cerrando fileiras em torno de Mauro Cid e tudo que ele fez e representa. São legalistas. Mas você vê que tem um problema de que qualquer crítica às Forças Armadas aparece como uma crítica pessoal.
Os militares não conseguem lidar com o fato de que não estamos preocupados com o general ou coronel tal. Estamos preocupados com o que permite que o coronel ou o general assumam um papel tão decisivo na República.
Essa mentalidade que o senhor descreveu é repassada tanto na formação quanto na atividade militar. A maioria dos professores nas academias são militares? Há espaço para alterar essas percepções?
Tanto na Escola de Guerra Naval como na Eceme, no Rio, já há uma maioria de professores civis, de alto nível, vindos por concurso público, sem nenhum pressuposto ideológico, e que orientam e dão aulas para militares. O programa de pós-graduação em assuntos marítimos da EGN e o programa de assuntos militares da Eceme são conduzidos largamente por professores civis. E as bancas de concurso foram formadas por professores advindos das universidades. Esse foi um momento único no segundo governo Lula, em que se deu uma ventilação nessas escolas.
Como é a receptividade dos militares com professores civis, especialmente de Humanas, que têm a pecha de serem de esquerda?
Olha, a universidade brasileira, nos anos 1980 e 1990, teve uma mutação ideológica muito grande. Os grupos que eram dominantemente marxistas dos anos 1960 e que fizeram oposição ao regime ditatorial foram convertidos, transformados em grupos pós-estruturalistas — isso imaginando que o Marxismo é uma forma de pensamento estruturalista. Principalmente, com o impacto de pensadores como Michel Foucault, eles alteraram a percepção tradicionalmente marxista, de esquerda. Isso é um pé de página, mas, de fato, os professores de História, Sociologia e Filosofia, para os militares, carregam um certo cartaz de “perigo”. Isso não se deve a um desvio ou uma postura de esquerda ou direita, mas sim porque trabalhamos com temas que são deixados de lado, sofrem apagamento. Um exemplo: esse mesmo Exército que cultua Guararapes não faz qualquer menção, em nenhuma escola militar, não tem um regimento, um batalhão chamado Zumbi.
Ora, o primeiro pedaço de território nacional que se torna independente, tanto de Portugal quanto dos holandeses, foi o quilombo dos Palmares. Esse reconhecimento das raízes populares, multiétnicas, o papel dos povos indígenas, negros, o problema da escravidão, nada disso é colocado. É um absurdo histórico que não haja um regimento Zumbi dos Palmares.
O que isso revela do conceito de heroísmo dos militares? É um pensamento da elite branca dominante proprietária de terras. Não é à toa que toda vez que se fala em reforma agrária, eles ficam desesperados. Mesmo a maioria absoluta dos militares não sendo proprietários de terra, eles incorporaram a ideologia da elite agrária do país. O MST, para eles, é o principal transtorno à vida
democrática do Brasil, e o MST sequer é um movimento socialista. É um movimento católico, cristão, radical, cooperativista, que aumenta a propriedade privada e a distribui, não acaba com a propriedade privada. Mas é difícil para eles entenderem.
A formação militar é essencialmente na matemática tradicional. Isso foi muito bem representado uma vez com o general Mourão falando da televisão. Ele começou a ditar equações, fórmulas matemáticas para dar conta de uma situação social. Essa visão matemática é totalmente binária. Não ajuda a pensar a complexidade da sociedade brasileira. Mas os militares imaginam que são os únicos que conhecem a sociedade brasileira, porque já serviram em Benjamin Constant, no Oiapoque, em Tabatinga. Sem perceber que indo com essa visão, com essas lentes profundamente
elitistas, eles só confirmam o que já queriam ver. Além dessa ideia salvacionista, de que são os únicos que não são corruptos, eles têm também uma imagem da história do Brasil sustentada numa visão elitista, patrimonialista e agrarista da sociedade brasileira.
Corporativista também? Toda vez que há uma reação da sociedade civil para eles voltarem à caserna, eles condicionam o movimento a recursos, investimentos e benefícios.
Militares, quando juram a bandeira e se incorporam, têm a obrigação de morrer pelo país. Isso cria uma excepcionalidade na função militar. Além disso, eles vão morar, durante a sua juventude, enquanto estão se formando, num quartel. Depois, como tenentes, onde forem alocados. Como capitães, por mais 10 anos, vivem como num deserto — essa é a patente em que se prova se o sujeito vai prosseguir ou não. Pense naquele capitão que nunca conseguiu passar de capitão, reclamava de falta de dinheiro, das condições de trabalho… Como capitães, eles estão colocados em lugares precários, normalmente já estão casados e as famílias são obrigadas a ir junto, os filhos crescem trocando de escola a cada dois anos.
Decididamente, é um trabalho diferenciado, com exigências físicas, inclusive. Eles entendem que isso merece uma remuneração diferenciada. Agora, eles escolheram isso. Quando você escolhe, assume o ônus e o bônus de qualquer profissão. É necessário que haja essa diferenciação de aposentadoria integral, mais cedo, e quando se explica isso, a população em geral concorda com benefícios diferenciados, que deviam se estender aos policiais. Mas isso não quer dizer, de maneira alguma, que eles tenham uma superioridade de cidadania em relação aos civis. Não tem como transformar isso numa outra cidadania, na qual eles tenham todo um sistema de moradia, de alimentação, de saúde, de salários que vão se acumulando, a ponto de, no final do governo passado, haver generais recebendo R$ 300 mil por mês.
Mesmo porque os militares não estão enfrentando risco de morte.
Sim, desde 1943 o Brasil não vai à guerra. Esse exército começou a ser burocratizado e a promover uma série de atividades que são totalmente diferentes do fim precípuo de um exército, que é o combate. Felizmente, não combatemos desde a envio da FEB para a Itália há 80 anos. Eles começaram a substituir isso por funções públicas, civis, acumulando emolumentos, salários, cargos. Hoje, o exército consome a maior parte do seu orçamento em custeio, não em pesquisa, armamento ou modernização. Chegou ao ponto de, nos governos Lula 1 e 2 e Dilma, juntar a formação militar específica a MBAs de Finanças, Empreendedorismo e Administração, dados pela Fundação Getúlio Vargas, contratada pelo Exército. Isso aumentou a ideia de privatização das Forças Armadas em direção à gestão da coisa pública, como se o país fosse uma empresa, com os princípios hiper liberais vigentes nesses MBAs. E criou um soldado que hoje não é formado visando a luta, mas visando a gestão, a administração.
Além de instituição coesa, o general Paiva diz que o Exército está em estado de “permanente prontidão”. Se não há combate, que prontidão seria essa?
Isso deveria ser perguntado ao general. Até onde eu saiba, o Brasil não tem nenhuma disputa, nenhuma ameaça imediata ao seu território. A integridade territorial e a manutenção de soberania deveriam ser as duas funções precípuas das Forças Armadas, elas estão descritas na Constituição. Por que estamos em permanente prontidão? Por causa do inimigo interno? Quem tem de manter a
ordem interna são as polícias: a Federal e as polícias estaduais, civis e militares. Esse é o grande debate do artigo 142 da Constituição, que foi muito mal redigido. Foi uma exigência dos militares no processo de transição junto à Constituinte de 1988.
Ali, havia pelo menos 40 assessores militares no nível de coronel impondo sua visão. Existem duas formas de transição de ditadura para a democracia. Uma das formas clássicas é quando a ditadura entra em colapso. Foi o caso da Argentina após a guerra das Malvinas; de Portugal depois da guerra colonial; da Grécia depois da guerra em Chipre. Existem outros casos em que a ditadura ainda é forte e pretende guiar a transição. É o que chamamos de transição pactuada ou tutelada.
Foi o caso do Chile, que não consegue sair da Constituição do Pinochet até hoje; da Espanha; e é o caso do Brasil. Não conseguimos impor uma visão puramente civilista na Constituição de 1988. Uma das pessoas que participou da comissão que redigiu artigo 142 foi o então futuro presidente FHC. Mas, ao longo de seu governo, ele fez duas leis complementares ao artigo 142, que alteram inteiramente seu funcionamento.
De que maneira?
A lei complementar diz claramente que a Garantia da Lei e da Ordem só pode ser feita a pedido de um governador, do ministro da Justiça e autorizada pelo presidente. Não há, de maneira alguma, uma forma de um general ou um comandante de área ou região militar tomarem iniciativas. Eles não podem, porque são mandados, não mandam. Isso está claro nas leis complementares ao artigo 142, que ninguém lê. Ficam só naquele texto inicial, vencido, mas que causa esse malestar de intervenção ou tutela permanente da República pelos militares. Eles continuaram pensando com essa ideia de que são os garantes, para usar uma expressão diplomática. Não são. Isso é Polícia Federal que faz, como está fazendo agora. Nós vivemos um momento divisor de águas. Eu não sei, sinceramente, se os políticos, inclusive o núcleo político do governo atual, entenderam isso.
É um momento em que podemos dar um basta a essa história mais do que secular de tutela da República pelos militares. Ou podemos fazer o que vários políticos, como José Múcio, querem: virar a página da história. Mas vai ser virar as páginas de uma história que não foi escrita ainda.
Como civis podem impor essa autoridade aos militares?
Os militares foram os grandes responsáveis pela proclamação da República em 1889, mas não foram os únicos. Havia uma história republicana anterior. É só lembrar de Tiradentes, Frei Caneca, Garibaldi, todos esses republicanistas que lutaram pela república. Eram civis. Falar que a República é um fato militar é desconhecer a história. Depois de 1889, tivemos guerra civil até mais ou menos
1910. Em 1922, recomeça eh agitação militar com o movimento tenentista; temos a Revolução de 1930; o golpe de Estado de 1937; o golpe de 1945; o levante em 1954 que leva ao suicídio de Vargas; o levante contra Juscelino Kubitschek, em 1956; a oposição à posse legal de João Goulart em 1961; e o golpe de 1964. Vou parar por aí, mas dentro da própria ditadura teve, em 1977, a tentativa de golpe do Silvio Frota e do hoje General Augusto Heleno, então capitão, contra Geisel. Eles contra eles. É uma história já muito saturada. Ela precisa ser encerrada. Encerrar essa história implica em que os militares não sejam trazidos para a política — nem através de eleições. É muito bem colocado o projeto de lei do deputado Zarattini (PT-SP), que fala que todos os militares que participaram de vida política, com cargo administrativo civil, devem ir automaticamente para a reserva. Essa coisa de se apresentar como capitão fulano, general sicrano, acaba de vez.
E os militares que já estão nas funções civis?
Uma medida que foi fundamental no dia 8 de janeiro, e eu prezo que aí se acertou enormemente, principalmente pela ação do ministro Flávio Dino, do jornalista Ricardo Capelli e do jurista Wadih Damous, foi negar controlar aquela desordem com uma GLO. Mais que isso: nomear, pela primeira vez na história da República, um interventor civil, que foi o próprio Capelli — um jornalista. Ele colocou ordem, começou os inquéritos, as prisões e quando tivemos a crise no GSI ele novamente foi interventor. Mas aí voltou-se atrás. Em vez de nomear um civil para o GSI, voltou-se a nomear um militar. Temos que civilizar esse debate. Civilizar no sentido de deixar civil mesmo. O apagamento, o deixar para lá, não é uma resposta. Tem que dizer aos militares que eles podem perder seus salários, suas casas, seus benefícios. Eles não estão decididos a perder isso. O presidente francês, Emmanuel Macron, foi eleito sem ter nenhuma experiência militar. Na sua posse, o chefe do
Estado-maior fez uma declaração ruim, dizendo que o Macron nada sabia de assuntos militares. O primeiro ato do Macron foi a exoneração do general. “Quem fala pela França sou eu, quem foi eleito fui eu, os senhores não falam pelo país, se falarem serão punidos” — essa clareza é fundamental. O mesmo aconteceu com o Pedro Sánchez, o presidente do conselho de governo da Espanha. O general Paiva não tem de vir a público definir o papel do Exército, falar em prontidão, falar que o Exército é coeso ou democrático. Isso está na Constituição. Por que ele tem de lembrar seus comandados? Alguém questionou? Se sim, tem de ser punido. O melhor ruído que os militares podem fazer numa república democrática é o silêncio.

É hora de os civis terem coragem
Professor Titular de História Moderna e Contemporânea/UFRJ
Professor de Teoria Social/UFJF
Professor Emérito da Escola de Comando e Estado-Maior/Eceme, do Exército do Brasil